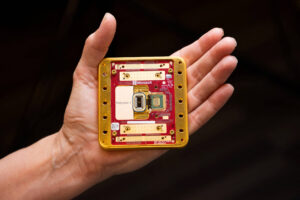Chego no bairro de Albazine, em Maputo, pontualmente às 9h, do dia 17 de junho de 2025, para uma entrevista com Paulina Chiziane. Acompanhado de outra escritora, Manoela Ramos, ficamos no portão gritando o nome dela por uns cinco minutos, até que uma pessoa que mora com Paulina nos recebeu e informou: “ela está dormindo”. Outros cinco minutos e surge a ganhadora do Prêmio Camões 2021, recém-acordada, com a mesma bata da foto que estampava uma camisa que fiz em sua homenagem.
“Como está o nosso Brasil?”; foi a primeira pergunta que me fez antes de iniciarmos a nossa conversa. Entre cigarros, café, e carvão para aquecer os pés, Paulina falou sobre literatura, cultura e questões sociais do seu país, no contexto em que se celebram os 50 anos da independência moçambicana.
FOLHA/GUIA NEGRO – Paulina, ontem fomos à livraria à procura de alguns livros seus, e chegamos em uma onde a pessoa que trabalhava disse que não tinha seus livros porque a senhora tinha desistido de fazer edições. Essa informação procede?
Paulina Chiziane – Digamos que estou num descanso, depois vou retomar porque envolvi-me em outros trabalhos e não tenho tido tempo para olhar para outras questões e também ando um pouco cansadinha, de vez em quando, doentinha, mas estou bem melhor agora. Vou ficar de pé e vou à luta!
Um dos temas recorrentes em Moçambique é a possível perda de identidade cultural. Por exemplo, pessoas que são changana (grupo étnico) já crescem sem saber falar o seu idioma de origem. A senhora acha que tem tido uma perda da identidade cultural no país?
Eu costumo dizer que a identidade é uma construção de cada dia. Há valores que se ganham e há valores que se perdem, mas temos que fazer de tudo para que os valores não sejam perdidos. E a língua é um deles. É verdade que muita gente, cada vez mais, fala a língua portuguesa, sobretudo quando os casamentos são de pessoas de diferentes regiões. Mas nós tivemos uma política de assimilação muito agressiva no período colonial que deixou sequelas. As nossas línguas eram chamadas de”língua de cão” e era proibido falar a “língua de cão”. De tanta mentira durante séculos, muitos de nós acabou acreditando que isso era verdade, e perde-se a identidade porque uma língua é um repositório de valores culturais.
Quando a gente não fala essa língua há muita coisa que se perde e é urgente resgatarmos e preservarmos esses valores. Mas são processos. Existem várias dinâmicas e várias causas que fazem com que as pessoas esqueçam. Mas a maior responsabilidade é mesmo dos Estados, que devem colocar as línguas nacionais nas escolas.
Mas essa ideia de língua de cão não ficou no passado? Isso ainda permanece na cultura?
Eu costumo dizer, muitas vezes, que nós agora estamos a ser colonos de nós próprios, porque somos nós que matamos a nossa cultura. Eu ainda nasci no tempo colonial, vivi o racismo colonial, a violência colonial eu conheço. Essas marcas estão presentes.
E justamente agora que Moçambique está completando 50 anos de independência, a senhora acha que tem tido avanços democráticos para a cultura do país?
É muito difícil falar disso. Sobretudo porque, a geração nova, que não conheceu a violência colonial, pensa que os 50 anos não serviram para nada. Isso é mentira! Eu não podia atravessar uma estrada na cidade porque há zonas onde os pretos não eram permitidos. Hoje sou livre. Um negro tinha a caderneta indígena, que não era um bilhete de identidade porque eu, no tempo colonial, era cidadã de segunda classe, completamente desconsiderada. E, hoje conheço o Brasil, publico livros, caminho pelo mundo. No tempo colonial havia apenas uma universidade, e ela era só para os brancos. Hoje temos universidade em tudo que é lado.
Desculpa que eu diga, mas há uma dose de ingratidão da nova geração perante o esforço que foi feito para a libertação. Erros, claro que existiram, mas muito se fez. O jovem que nasceu encontrou a liberdade, encontrou a universidade, encontrou o pão na mesa, e não é capaz de agradecer e respeitar os seus ancestrais?
Agora, o crescimento para processos democráticos, o que é isso? Eu já li, já escutei, tentei compreender o que é democracia. Confesso, não entendi até hoje. É como a globalização, não entendi até hoje. Hoje falamos de democracia; será um novo mercado? Ou uma nova religião? Veja só o que aconteceu conosco no ano passado por causa das eleições: morreu tanta gente, tanta gente… Será que para haver democracia é preciso matar? Enfim, a realidade é esta. Mata-se em nome da democracia, rouba-se em nome da democracia, faz-se guerra em nome da democracia. Eu prefiro falar, se calhar, da humanidade, porque esses nomes todos, democracia, globalização, são enfeites. A verdade por dentro é outra.
Eu percebo que, nas suas entrevistas, a senhora sempre cita Quimpavita, Achivangila e outras rainhas africanas na perspectiva de enaltecer a memória da mulher africana que, muitas vezes é silenciada ou invisibilizada na história.
É verdade. E as mulheres foram muito poderosas e muito importantes. Foram e são. E a nossa história é uma história única. Eu digo única porque não me lembro de ter visto na humanidade alguém que sofreu tanto como uma mulher africana. Ver os filhos já serem levados para a morte e para o sofrimento, para nunca mais voltar. Eu não consigo imaginar como foi possível as mulheres resistirem e continuar esta África de pé, embora fragilizada.
A senhora acha que um dia o continente africano vai conseguir se apoderar da sua grandeza, da sua importância para o mundo e, realmente, se impor ante essa tentativa colonial que parece não ter fim?
Se olharmos para a penetração colonial, vamos ver que foi gradual. Levou séculos para se consolidar. A libertação também pode ser gradual, e está a ser gradual. É uma luta que vai durar séculos ou mesmo milênios. Mas é uma luta! Eu me lembro quando fui convidada à Conferência Internacional de Teologia no Brasil, em Belo Horizonte. Estava aquela granfinada toda do clero católico, maioritariamente branco e eu afirmei tranquilamente que Deus é mulher e é negra. Aquilo foi um escândalo (risos)! Ficaram zangados comigo, aqueles velhos todos poderosos. Quando alguém imagina Deus, vê um branco com uma túnica branca e cabelos longos. Por que não se pode imaginar uma mulher negra com as suas tangas como Deus? Então, até o nosso imaginário é racista. Hoje já começam a admitir que Jesus Cristo era negro. É um processo e leva tempo. O mais importante é não desistir nunca.
A senhora vai ser homenageada no Festival de Poesia de Lisboa, cujo tema é “O Amor é um ato revolucionário”. Como a senhora está se sentindo com essa homenagem?
Às vezes, fico num vazio quando uma homenagem destas acontece, desta magnitude. Eu paro e olho para trás e tudo me remete ao passado, no tempo em que comecei, no tempo em que ninguém acreditava que uma mulher poderia trilhar caminhos. E, às vezes, me pergunto: “meu Deus, de onde veio a força para resistir?” É isso que eu gostaria de deixar claro: por muito difícil que seja a luta, se há perseverança, as pessoas alcançam um patamar mais elevado. Então, com esta homenagem, sinto que a literatura é um grande percurso, como a vida tem um grande percurso. É preciso caminhar, caminhar sempre até dar o último passo da vida. Claro, com alguns intervalos, para tomar uma cervejinha, como eu faço (risos)!
As homenagens são bem-vindas. Mas, por vezes, as pessoas olham para quem recebe o prêmio e dizem que também gostaria de ter. Nunca se deve trabalhar para ganhar um prêmio ou para ser homenageado; deve-se trabalhar! O trabalho por si é o que vai fazer com que a recompensa venha. Gosto de falar para os mais jovens, porque, às vezes, há pressa. Às vezes, temos querelas entre nós, porque todo mundo quer brilhar… Mas, para brilhar é preciso limpar, é preciso polir, e é preciso caminhar. Às vezes, até sofrer.
Tem um recado para os seus fãs brasileiros, que gostam tanto do seu trabalho?
Um dia terão uma surpresa. Não sei quando!
*Lucas de Matos é comunicador, escritor e creator. Autor dos livros ‘Preto Ozado’ e ‘Antes que o Mar Silencie e colaborador do Guia Negro